Texto e fotos: Agnes Mariano
O sol ainda nem se levantou e eles já estão de pé. Os homens, prontos para, novamente, arriscar suas vidas sobre as ondas. As mulheres, para enfiar suas coxas e braços em manguezais úmidos, escuros, movediços. Para quem sobrevive do mar, a vida é um treinamento marcial, onde se aprende diariamente a conviver com a solidão, dominar os medos, entregar-se ao desconhecido, reconhecer a própria insignificância e viver apenas com o essencial. Uma vida dura, cheia de esforços e privações, mas com duas grandes qualidades. A primeira, é a calmaria se instala na alma do praiano, que esquece a pressa, as angústias, fica em paz. A outra vantagem é que, não importa se é dia, noite, se chove, faz sol, se o céu está cinzento ou luminoso: a beleza está sempre lá, presente, enfeitiçando a todos.
De um lado, o coqueiral, do outro, um mar irrequieto, barulhento, sem fim. De vez em quando, um rio que deságua. É possível percorrer quilômetros sem encontrar vestígios de ocupação humana, vendo apenas areia e espuma, que, de tão brancas, quando se encontram, nos dão a sensação de caminhar sobre nuvens. Para conhecer a fundo o litoral da Bahia, é preciso ter nervos de aço, pois é grande o risco de ficar tão atordoado quanto os primeiros portugueses, de se desesperar com a solidão ou de não resistir à vontade de virar índio e permanecer ali para sempre. A história da ocupação das praias baianas demonstra: não foram poucos os que sucumbiram a esse encanto. Uma história com lances heróicos, cruéis e apaixonados. Uma longa disputa que perdura até hoje, pelo poder ou prazer de viver na beira do mar.
Os primeiros litorâneos foram os índios, como os vários povos tupi–guarani que habitam as praias do Brasil há séculos. Eles vieram dos Andes: alguns chegaram pelo sul e foram subindo, outros vieram pelo norte, explica a antropóloga e historiadora Maria Hilda Paraíso, da Universidade Federal da Bahia, especialista em história indígena. A vida na beira do mar era uma delícia: pescaria, coleta, pequenas plantações. Para se locomover, usavam as pirogas, um modelo de canoa escavada em troncos que sobrevive até hoje. A rotina só era quebrada por alguma guerrinha tribal, sempre finalizada com a degustação de um prisioneiro. Uma honra para o vencedor e para quem era comido.
Em 1500, quando apareceram os primeiros visitantes de terras distantes, as coisas começaram a mudar. Nos primeiros anos, Portugal nem notificou a descoberta, pois não estava bem certo se as novas terras não pertenciam à Espanha, conta Paraíso. A calmaria inicial foi quebrada mesmo com a doação das capitanias hereditárias, dando a largada na colonização do Brasil, baseada na escravidão. As praias foram palco então de massacres inomináveis, mas também de tórridas histórias de amor e alguns encontros cordiais. Os índios foram as primeiras vítimas: assistiram a um desembarcar sem fim de estranhos que trouxeram novos costumes, sujeira, doenças, progresso, destruição e violência. Como muitos morreram em batalhas, por causa das doenças ou fugiram, o jeito foi importar novos escravos, que vieram, pelo mar, da África.
Em Salvador, no começo, a praia não era o local mais cobiçado, pois o mar era a estrada, e, como acontece em todas as estradas, em suas margens sempre havia perigo. O maior surpresa que o mar trouxe à cidade foi há exatamente 378 anos. Em 09 de maio de 1624, surgiu no horizonte, ameaçadora, uma armada holandesa com 26 navios. De imediato, não houve como resistir: a cidade foi dominada e a população fugiu para Abrantes, no litoral norte, onde os jesuítas tinham criado uma vila, onde antes havia sido uma aldeia indígena. Depois de um ano de ocupação, entretanto, os holandeses foram expulsos.
A disputa por um pedacinho de terra no litoral foi assumindo novos feitios, mas ainda estava longe de terminar. A partir do século XIX, muitas praias que eram primordialmente habitadas por pequenas comunidades de pescadores, começam a receber visitantes, pois cresce o hábito do veraneio entre a elite. O que não significa que, anteriormente, a praia não fosse visitada – há notícias de um veraneio de Tomé de Souza em Itaparica e de passeios pela praia de Gregório de Mattos – a diferença é que ir à praia era como ir ao campo fazer um piquenique: em pequenos grupos e todos vestidos. Com os veraneios, uma grande mudança aconteceu: assim como faziam os índios, começamos a nos despir. Para os índios de verdade, que tinham como último reduto o sul do estado, o século XIX significou o retorno à disputa pela terra. Uma batalha que dura até hoje, envolvendo fazendeiros e pataxós.
Quando o século XX se inicia, as praias baianas já tinham um número razoável de admiradores. Depois dos anos 50, a necessidade de expansão urbana aliada ao desenvolvimento econômico deu início a uma corrida para o mar. Seja morando ou apenas de passagem, ir à praia tornou-se sinônimo de bom gosto, de bom viver. Banhar-se no mar, hábito antes restrito a doentes, tornou-se um ritual para milhares de pessoas. Em Salvador, a ocupação ocorreu nas duas direções: no sul, ela foi desenfreada, fazendo estragos profundos na Península de Itapagipe e chegando ao Subúrbio. No direção norte, atingiu principalmente Pituba e Boca do Rio e, depois, Itapuã. A área que restou ficou sendo terreno de engorda para os especuladores. Nos últimos anos, se descobriu que as praias podiam ter ainda um outro uso: ser o principal atrativo turístico do Estado.
Um dos últimos redutos que permaneceu preservado foi a área norte do estado, acima de Salvador, até a divisa com Sergipe. Apesar das indústrias – como a Tibrás, atual Millennium – dos esgotos, do lixo, do desmatamento, ainda é possível encontrar por lá locais onde se vive a essência do espírito praiano. Ocupada inicialmente por índios, depois por aldeamentos jesuíticos e vilas – que sobrevivem da pesca e agricultura -, a partir dos anos 70 foram surgindo os loteamentos e empreendimentos turísticos. Os primeiros 50 quilômetros, até a praia do Forte, começaram a ser explorados mais cedo, com a Estrada do Coco, a aldeia hippie de Arembepe e o Pólo Petroquímico de Camaçari. Os outros 142 quilômetros até a divisa com Sergipe, muita gente só descobriu depois de inaugurada a rodovia Linha Verde, há poucos anos. Além da fartura e beleza, que atrai curiosos do mundo todo, outro aspecto que confere importância estratégica ao local são as suas importantes bacias hidrográficas. Para falar apenas dos grandes rios: Joanes, Jacuípe, Pojuca, Imbassaí, Sauípe, Subaúma, Itariri, Itapicuru.
Um dos mais antigos municípios do litoral norte é o Conde, há 155 quilômetros de Salvador. Antes de ir para as praias, vale conhecer, por exemplo, a Vila do Conde, local do primeiro encontro entre homens brancos e tupinambás, em 1621, quando chegaram os jesuítas. No ponto mais alto fica a igreja e, na sua torre, está Nossa Senhora do Monte, que escolheu ficar ali para não perder o espetáculo. Depois, vale uma visita ao Conde, a sede do município, onde nos sábados acontece a grande feira, reunindo tudo o que foi pescado, plantado e produzido nas redondezas. Das várias histórias da cidade, uma das mais curiosas é a da passagem de Antonio Conselheiro e seus seguidores por lá, em 1887. Como conta Sant´Ana, o grupo parou para rezar na praça e lá foi alvo da zombaria das crianças, que pegaram as sandálias de Conselheiro e atiraram no alto de um grande tamarineiro, conta Francisco Lins Sant´Ana no Jornal Participação, o periódico mensal do Conde. O beato disse então que o rio Itapicuru é que iria resgatar as suas sandálias. Profecia ou praga, a região enfrenta periodicamente enchentes severas. Depois disso, o visitante já pode seguir rumo às praias: Sítio do Conde, voltada para o turismo; Siribinha, uma vila de pescadores ou a exuberante Barra do Itariri, cenário do filme Tieta, de Cacá Diegues.
Na ocupação da litoral baiano, de uma ponta a outra, um dos principais desafios atuais é levar o progresso sem a exclusão dos seus habitantes originais e sem destruição ambiental. A opção pelo turismo não tem sido bem sucedida nesse aspecto, gerando apenas subempregos para a comunidade litorânea, lixo e sujeira. Outro risco constante é a privatização de toda a nossa orla, que vem despertando o interesse de grandes grupos econômicos, que compram grande fatias de terras onde implantam projetos voltados para um público de elite, que em nada desenvolvem a região ou utilizam a área para monoculturas, facilitando o desenvolvimento de pragas, inviabilizando a coleta e prejudicando a biodiversidade. Já existem projetos atentos a esses problemas, como o “Vetor Norte”, da Fundação Onda Azul, que busca mobilizar comunidade e poderes públicos para repensar essa ocupação. A outra esperança que resta vem do sol, da areia, do mar, que quando nos toca, faz surgir algo de bom dentro de nós, pois, mesmo que apenas por instantes, quando estamos desnudos na praia, somos todos iguais, sem sobrenomes, contas bancárias, pequenos e livres.
COMEÇO DA OCUPAÇÃO
Eles vieram andando, guiados apenas por uma profecia. Atravessaram florestas e rios acreditando que, num lugar além do sol nascente e depois de um grande rio, encontrariam Maíra, o Deus maior, o criador do universo. Não encontraram Maíra, mas descobriram um paraíso feito de sol, areia branca, águas mornas, peixes e frutos em abundância: o litoral do Brasil. Foi assim que, há muitos séculos, os índios tupi-guaranis originários dos Andes começaram a se espalhar pela costa atlântica, conta a historiadora Maria Hilda Paraíso. Antes deles, outros índios já tinham estado aqui, mas foram os tupis que ocuparam toda a costa e que, um dia, assistiram à chegada dos primeiros europeus e, depois, dos africanos. A partir daí, essa estreita e comprida faixa de terra banhada pelo mar se tornou o principal cenário das mais heróicas e cruéis histórias. O mar ficou sendo então, ao mesmo tempo, símbolo de alegria e sortilégios. Um paraíso para uns, um purgatório para outros.
Da matriz tupi, no litoral baiano viviam os tupinambás – do rio São Francisco ao rio de Contas – e os tupiniquins, na parte sul até o Espírito Santo. Agricultores, eles “plantavam milho, vários tipos de batata, que é originária da América, cará, abacaxi, feijões e mandioca. Também viviam da caça, pesca, mariscos e frutas”, conta a professora. Para erguer suas aldeias, preferiam locais próximos a rios e elevados “para ter visibilidade”, explica a historiadora, que também é antropóloga. A preocupação estratégica não era a à toa, pois esses grupos estavam sempre em guerra: “Viviam fazendo e refazendo suas alianças”.
Tecnologia para a vida no litoral não faltava aos tupis. Para pescar, usavam jereré, arco, flecha, rede angareira e anzol de espinha de peixe. Para transitar pelos rios e mar, tinham as pirogas – canoas escavadas em troncos – além de serem bons nadadores. “Os dois esportes mais populares eram as lutas dentro d´água e a peteca, uma invenção tupi”, lembra Paraíso, para quem o mais importante costume indígena que herdamos foi o hábito de tomar banhos. No mar ou nos rios que deságuam na orla, sempre era possível encontrar um índio nu, bronzeado e forte se deliciando com a água.
Colonos e jesuítas
Em 1500, entretanto, a festa acabou. De imediato, a chegada dos portugueses não mudou muita coisa: em contatos amistosos, os índios ofereciam água, alimentos e ganhavam bugingangas. “Portugal não via o que fazer aqui. Não havia sequer uma autoridade reconhecida que se pudesse subjugar, era uma horda de pessoas andando pra lá e pra cá nus. O Brasil era só um ponto de repouso para as naus que iam para a Índia”, explica Maria Hilda. Em geral, o que interessava aos europeus era levar daqui pau-brasil e produtos exóticos, como aves e índios. Com autorização ou não, alguns portugueses foram se instalando no litoral, construindo alianças com os índios, inclusive através de casamentos, pois vigorava entre eles o “cunhadaço”, a obrigação de dar apoio ao marido da irmã. O mais famoso entre todos esses pioneiros foi Diogo Álvares, o Caramuru, que naufragou no Rio Vermelho em 1510, desposou várias índias, estabeleceu uma povoação no Porto da Barra e tinha uma casa em Tatuapara, atual Praia do Forte, afirma ela.
Se o começo foi ameno, não tardou a surgir a tempestade, quando, em 1534, o litoral brasileiro começou a ser loteado. Eram as capitanias hereditárias, que deflagraram uma nova fase nas relações. Entre os europeus, a postura passou a ser a de dominar, conquistar e escravizar: “As pessoas chegavam para se instalar, desmatar a terra, o que acabava com a coleta, provocava a fuga da caça. Houve uma deterioração violenta no padrão alimentar, a exploração do trabalho, violentação, castigos, novas regras de produção, onde os índios, além de derrubar e queimar a mata, eram obrigados a plantar e colher, o que, entre eles, era trabalho das mulheres. Os prisioneiros eram desviados do ritual de antropofagia – razão de glória para o vencedor e de dignidade para o vencido – para o trabalho escravo. Um ultraje”, enumera a historiadora. O édem de Maíra estava com os dias contados.
O golpe de misericórdia veio com os religiosos da Companhia de Jesus, em 1549. Não porque fossem mais cruéis que os colonos portugueses, mas porque centraram seus esforços em alterar as crenças e costumes dos índios litorâneos. Segundo a historiadora, “a ação jesuítica, voltada principalmente para eliminar a poligamia, a antropofagia, as casas coletivas, a nudez, o paganismo e o nomadismo, funcionava como um aríete, demolindo as instituições fundamentais dos grupos”. Nessa mesma época, foi fundada a primeira cidade brasileira: Salvador. Antes dela, só existiam algumas vilas ao longo da costa, como São Vicente, São Jorge do Ilhéus, Porto Seguro e Olinda.
Os conflitos existiram desde o começo, como comprovou o primeiro donatário – Francisco Pereira Coutinho – que se desentendeu com os índios e foi devorado em Itaparica. Na década de 1540, também aconteceram várias revoltas e elas prosseguiram com a chegada dos jesuítas que construíram aldeamentos onde já existiam aldeias, erguendo escolas e igrejas. Em 1556, no governo de Duarte da Costa, houve uma revolta que envolveu aldeias de Itapuã a Paripe, mas todas foram esmagadas. Uma das piores foi a de Ilhéus e Porto Seguro, “envolvendo os tupiniquins, que eram tidos como dóceis. Nessa revolta houve um massacre dos índios conhecido como Batalha dos Nadadores, em que os sobreviventes fugiram nadando, mas foram perseguidos por canoas e mortos”. Para completar, “entre 1560 e 1563, duas grandes epidemias de varíola e sarampo mataram 2/3 dos índios que viviam entre o Espírito Santo e a Paraíba. Eles não tinham anticorpos e não sabiam como se tratar – entravam no mar com febre alta – e morriam de fome por não poder caçar e pescar”, descreve ela.
Sobreviventes
E assim, em nossas belas praias, foi morrendo Pindorama e nascendo o Brasil. Mas um Brasil que, sendo mestiço, nunca apagou totalmente os seus índios. Depois de 1560, a mão-de-obra nos engenhos passou cada vez mais a ser africana, a não ser nas capitanias do sul, por falta de recursos: “O primeiro donatário da capitania de Ilhéus faliu, o da capitania de Porto seguro foi preso e o do Espírito Santo foi buscar dinheiro em Portugal e morreu”, conta a historiadora. Se tal situação manteve a escravização de índios, “até 1876 há referência ao comércio de crianças indígenas, os curucas”, ao mesmo tempo preservou o sul do estado como o último refúgio para eles: “Até quase meados do século XIX, a ocupação permaneceu muito restrita ao litoral, não ultrapassava uma légua e meia pra dentro”. Um dos motivos é que, para evitar contrabando do ouro descoberto em Minas Gerais, Portugal proibia a aberturas de estradas ligando o litoral às minas: “Os índios e a floresta serviam como muralhas naturais”.
Foi por essas e outras razões que a beleza do litoral sul do estado foi poupada por tanto tempo e que, até hoje, boa parte dos nativos daquela região tem nítida ascendência indígena. Como Miguel Gesy Lopes, de 80 anos, bisneto de uma índia e nascido na paradisíaca Itacaré, no baixo sul, em 1921. Morando há muitas décadas em Salvador, Gesy lembra com nitidez a vida da pequena comunidade de pescadores antes da luz, da água encanada e da estrada. O embarque das sacas de cacau já movimentava a região, mas a maioria da população vivia mesmo ao modo indígena, da pesca: “Os barcos saíam de madrugada para pegar os cações, melro, canapu, vermelho e lá tem o menor peixe do mundo, a manjuba, que de tão pequeno é vendido a litro e pescado em pano de aninhagem. A maioria acordava às 4h. Foi lá que aprendi a gostar de ver o nascer do sol. O povo de Itacaré é muito educado, não é culto, mas é instruído”, define ele, rindo com o seu olhar enigmático de índio tupi.
SALVADOR
Monstros, piratas, invasores, sereias, escravos, riqueza e dor. Nos primeiros tempos, qualquer morador de Salvador sabia: o que de melhor e pior pudesse lhes acontecer, viria pelo mar. As grandes transformações sempre começavam na praia, pois aquela imensidão azul e turbulenta era a única estrada conhecida. Deve ter sido por isso que a praia demorou tanto para ser considerada fonte de prazer, local para relaxamento e diversão Quem duvida, precisa só dar uma olhada na cidade vista do mar e contar quantos fortes, com seus canhões voltados para o oceano, foram erguidos para proteger Salvador.
Foi na região da Barra, Graça, Vitória e Chame-chame que viveram Caramuru, Catarina Paraguassu e que o primeiro donatário, Francisco Pereira Coutinho, ergueu a Vila do Pereira. Como se sabe, o donatário não teve sorte e acabou sendo devorado por índios. Por isso, quando veio para cá estabelecer o governo geral e fundar a cidade do Salvador, em 1549, Tomé de Souza preferiu uma área mais protegida, elevada e de difícil acesso: a cidade alta, de São Bento ao Carmo. Como explica o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Marcos Paraguassu, a parte baixa, a praia, que depois se transformou no Comércio, era uma faixa de terra muito estreita, que passou desde aquela época até o século XX, por sucessivos aterros, sendo o último e mais importante deles feito para a construção do porto.
Também em 1549, aproveitando aldeias indígenas, os jesuítas começaram a criar aldeamentos, como conta a historiadora Maria Hilda Paraíso: Vila Velha, na Barra; São João, em Plataforma; do Simão, entre o Campo Grande e a Gamboa; Nossa Senhora do Rio Vermelho, no Morro do Conselho e muitas outras. Nesta última, inclusive, mesmo após uma revolta e fuga dos índios, “os jesuítas não deixaram o local, pois o consideravam aprazível para retiros, férias dos estudantes e repouso dos padres”, conta ela. Era o veraneio dando seus primeiros passos na Bahia.
Com o seu passado turbulento, na Barra, foram erguidos não um, mas três fortes (Santa Maria, São Diogo e Santo Antônio da Barra, que também é um farol). Durante bom tempo o local foi também uma espécie de divisor de águas dos dois tipos de ocupação do litoral da cidade: em direção a Itapuã, com pequenas aldeias de pescadores e armações de pesca; a parte antiga, mais habitada, com o centro, a administração e vários engenhos, que se estendiam Recôncavo adentro. De um lado, a natureza dominando, o mar bravio, a solidão. De outro, o homem tentando moldar a natureza às suas necessidades. Primeiro com mão-de-obra indígena e depois africana, foram surgindo os engenhos. Ainda no século XVI, Gabriel Soares construiu um engenho de açúcar com capela, casa grande e senzala na área urbana de Salvador, num local que depois ficou conhecido como Solar do Unhão. Em Itapagipe, Garcia D´Ávila tinha olarias e currais, em Água de Meninos havia um engenho. “No Subúrbio, tinha engenhos em Lobato, Periperi, Paripe”, cita Paraguassu.
“A praia era vista como lugar de marinheiro, prostituta, de se jogar sujeira. Lugar de monstros e tristezas”, explica o sociólogo Gey Espinheira a respeito do Brasil colonial. De fato, a mar trouxe a eles muitas surpresas desagradáveis, como a do dia 8 de março de 1624, quando 26 navios holandeses chegaram à costa baiana, para invadir e dominar. Na madrugada do dia 9, mil homens desembarcaram na praia da Barra e atacaram o Forte de Santo Antônio, enquanto outros navios atacaram o centro da cidade e barcos portugueses. A população fugiu, indo para a aldeia do Espírito Santo, hoje Abrantes, no litoral norte, que se tornou o foco da resistência. Se passaram 12 meses, até que, pela inabilidade dos holandeses em fazer a cidade retomar a vida normal, emboscadas dos brasileiros e reforços de Portugal e Espanha, eles acabaram sendo expulsos. Insistentes, em abril de 1638 eles tentaram novamente. Tendo a bordo o Conde Maurício de Nassau, os holandeses desembarcaram “na enseada da Ribeira, defronte das capelas de São Brás e de Nossa Senhora da Escada”, mas dessa vez não conseguiram sequer entrar na cidade, conta Luis Henrique Dias Tavares, em História da Bahia: bloqueados em Itapagipe e em Santo Antônio Além do Carmo, acabaram desistindo e indo embora.

Banho salgado
Dando um salto no tempo, chegamos ao século XIX, quando as praias baianas viviam uma relativa calmaria. O comércio e transporte ainda dependiam bastante do mar, que vivia salpicado de saveiros indo e vindo; a pesca da baleia, bastante rentável, já tinha vivido seu ápice e estava em declínio e a cidade tinha crescido nas duas direções: na direção do Recôncavo, destacava-se a península de Itapagipe, e no sentido oposto, o bairro do Rio Vermelho. Entretanto, freqüentar a praia ainda não era um hábito muito difundido, a não ser entre os pobres, principalmente os pescadores e familiares, como registrou em 1842 o vice-cônsul britânico na Bahia James Wetherell: “Os pretos, aqui, parecem nadar como se fossem anfíbios: pode ver nas praias grande número de crianças brincando e praticando natação entre eles, durante horas a fio”.
Para a elite, a praia era um lugar para excursões e piqueniques esporádicos e o “banho salgado” era procurado principalmente para tratamentos de saúde, conta o antropólogo Thales de Azevedo, em seu texto “Praia, espaço de socialidade”. Mas, aos poucos, o interesse pelo veraneio foi se espalhando, em parte copiando a Europa, onde era chic passar temporadas em estações de água, montanhas e balneários, em parte sob influência dos novos hábitos trazidos pela corte e família real. Veraneava-se em Itaparica, Rio Vermelho, Itapagipe, no Subúrbio. Aliás, é nessa época que começa a crescer a ocupação na Cidade Baixa, quando, no lugar dos engenhos, proliferam as fábricas, como a de Luis Tarquínio, na Boa Viagem e outras no Subúrbio. “A partir de 1865, com o trem indo para o interior, começa mesmo a ocupação do Subúrbio. Entorno das paradas do trem, surgem bairros”, explica o arquiteto Paraguassu. Se, antes, o contato de boa parte da população com o mar era apenas dando uma olhadinha, de longe, a partir daí, muita gente passou a procurar locais onde, pelo menos nas férias, pudesse chegar perto do mar.
CORRIDA AO MAR
O visitante chega, mal tira a roupa e sai correndo desesperado para o mar, feito criança. O nativo, tranqüilo, olha a cena, dá risada e resmunga: “Parece que nunca viu água”. Foi a partir dos anos 60 que essa cena começou a se tornar freqüente no litoral baiano. Muita coisa tinha começado a mudar em Salvador e na Bahia a partir da década de 50, iniciando um crescimento urbano e populacional sem freios. Foi aí também que se deu, timidamente, a descoberta do potencial turístico das praias baianas, pois é de 1954 o primeiro Plano Diretor do Turismo no estado. Os baianos foram despertando, então, para o fato de que tinham uma orla. E que orla…
O artista plástico Calasans Neto viu tudo acontecer. Íntimo do mar desde 1939, quando foi morar no Porto da Barra, ele conta como as coisas funcionavam até os anos 50: “Só os jovens iam à praia, que só eram freqüentadas durante a manhã, apenas pro banho de mar. Depois do meio dia, ficavam vazias. Entre a geração mais antiga, não existia o culto ao bronzeamento, achavam que o sol fazia mal. Tinha também aqueles que tiravam do mar o seu sustento, eram os trabalhadores do mar. Na sexta, o Porto da Barra se enchia de saveiros vindo do Recôncavo com produtos pra feira de sábado. Até os anos 50, só íamos até Amaralina. Daí em diante era pra veraneio”, conta ele. Calasans lembra ainda dos compridos maiôs “catalina”, considerados ousados e do cheiro do “dargeli”, o primeiro bronzeador. Além da Barra, suas paixões de garoto e adolescente eram o banho de mar no Unhão, “saltar de um guindaste que tinha na ponta”, os longos veraneios na Pituba e da vontade de rever Itapuã: “Foi na década de 40, num piquenique, que fui lá pela primeira vez. Fiquei deslumbrado, era tudo coqueiral”.
Na década de 60, a corrida começou. Áreas antes desertas começaram a ser loteadas ou invadidas. Pacatas comunidades de pescadores assistiam dia a dia à chegada de curiosos que vinham de passagem ou para ficar. O êxodo rural inundou Salvador de novos moradores que passam a se alojar em locais como o Subúrbio, Península do Joanes e de Itapagipe, regiões que passam por grandes transformações, sobretudo por conta de sucessivos e desastrosos aterros, explica o arquiteto Marcus Paraguassu. Além da ocupação humana, sempre acompanhada de lixo e esgoto, outro fator que abalou a região foram as indústrias: Chadler, Souza Cruz, fábricas de sapato, óleo, tecido, produtos químicos. Além do Centro Industrial de Aratu e da refinaria da Petrobras, que iam deixando marcas da sua presença na Baía de Todos os Santos, o desastre completo para a Cidade Baixa veio com a Companhia Química do Recôncavo (CQR), que sofreu um acidente na década de 70 e contaminou com mercúrio a Enseada dos Tainheiros, relembra o sociólogo Gey Espinheira.
Rumo ao norte
Quem podia, é claro, começou a migrar rumo ao norte. Surgem os primeiros prédios na Pituba, invasões e loteamentos na Boca do Rio e quem tinha espírito aventureiro podia ir até Itapuã, pois Otávio Mangabeira já tinha feito a avenida que leva seu nome. Um desses novos ocupantes foi Calasans Neto que, nos anos 70, desconfortável com o que ele chama de “sufocamento urbano”, resolveu seguir o conselho da avó: “Ela dizia que você só deve morar perto de padaria, que é a concepção dela de fim de linha”. Ele então escolheu o fim de linha de Salvador: Itapuã. Ele e muita gente. Em Jaguaribe, três cooperativas de profissionais liberais conseguiram financiamento público e erguerem os primeiros condomínios. Com a construção do Pólo Petroquímico de Camaçari, também nos anos 70, surgem a Estrada do Coco e Villas do Atlântico: “Foi um dos bairros que surgiu para acomodar a classe média alta do Pólo, assim como o Itaigara e o Caminho das Árvores”, explica Gey Espinheira. Tudo isso, mais a profissionalização do turismo com apoio do governo, passaram a dirigir todos as atenções, disputas e investimentos públicos e privados para a orla norte.
“A orla foi historicamente base para a especulação de terras. Eram fazendas. Quase tudo era de Edmundo Visco, que mandava os homens dele num burro ir pegando o dinheiro de cada morador. A ocupação e valorização foi um processo cíclico, que começou com a construção da avenida, asfaltamento, iluminação, duplicação da avenida, implantação do Parque da Orla, Centro de Convenções. Um conjunto de investimentos públicos, mas ela continuou e continua na mão dos especuladores de terra”, explicam os arquitetos Marcos Paraguassu e Paulo Rocha, presidente do Instituto dos Arquitetos da Brasil/Bahia (IAB).
Foi aí também que muita gente começou a explorar e conhecer as praias acima da capital, de Camaçari até a divisa com Sergipe. Lá, a história não foi diferente da de Salvador: índios e depois aldeamentos jesuíticos, em locais como Bom Jesus de Tatuapara (Praia do Forte), Santo Antonio de Rembé (Arembepe) e Espírito Santo (Abrantes). Chegaram colonos, aconteceram muitos conflitos – “os índios foram destruídos principalmente por Garcia D´Ávila”, conta Espinheira – e assim foram surgindo os povoados e cidades, habitados por um povo mestiço, meio índio, negro e branco, sobrevivendo do gado, cana, pequenas roças de subsistência, fazendas de coco, piaçava e pesca. As coisas se mantiveram sem grandes mudanças até a segunda metade do século XX, quando o crescimento da capital, o Pólo Petroquímico de Camaçari e o fluxo turístico provocaram transformações nas áreas próximas: “Houve uma certa mudança de mentalidade, ninguém mais queria trabalho rural, muitos passaram a ser caminhoneiros, se tornaram caseiros, lavadeiras ou cozinheiras para veranistas. As pessoas passaram a ter outras expectativas, mas não têm como realizá-las”, diz Espinheira.
Loteamentos de luxo ao lado de uma população pobre, privatização das praias, poluição industrial e doméstica, conglomerados turísticos que excluem a população nativa, falta de infra-estrutura para atender tanta gente: os problemas são incontáveis, mas a ocupação do litoral norte é um caminho sem volta. O desafio agora é gerir essa ocupação: “Verificamos três modelos, a ocupação concentrada, em Lauro de Freitas, a menos concentrada, em Camaçari e a dispersa, de Praia do Forte a Mangue Seco. Nos próximos 20 anos é provável que um milhão de pessoas estejam morando nessa área. Desde 2000 estamos estudando essas questões, produzimos um diagnóstico e uma proposta, que é a criação de um consórcio estabelecendo uma parceria entre todas as prefeituras do litoral norte para a implementação de ações que mobilizem a sociedade para repensar essa ocupação, encontrar novas atividades produtivas, criar planos de adequação turística e educação ambiental”, conta o sociólogo Gey Espinheira, que integra a equipe do Projeto Vetor Norte, da Fundação Onda Azul, uma parceira entre Ministério do Meio ambiente, governo da Bahia e prefeituras dos municípios do litoral norte, firmada em 16 de abril de 2002.
A beleza é um dom maravilhoso, que alegra a alma, atrai, inspira, mas também pode ser um fardo, quando faz surgir desejos desesperadas, violentas, que levam à destruição. Esse é o drama das lindas praias baianas: amadas por uns e cobiçadas por outros. Para entender o que o litoral baiano já foi e deixou de ser e para buscar inspiração para o futuro, nada melhor do que explorar locais que ainda mantém o espírito praiano. Um bom exemplo é o município do Conde, que fica há 155 quilômetros de Salvador. Lá, é possível distinguir vários tipos de ocupação: alguns vivem do turismo, outros da pesca ou plantações; há cabanas de palha, casas modestas e condomínios luxuosos. A relação entre os nativos e os novos ocupantes é sempre complexa, pois o progresso, quando chega, é excludente, não beneficia a todos.
Depois do Conde, é só seguir rumo às praias. A primeira é a de Sítio do Conde, a que possui maior infra-estrutura turística e de onde se chega a Poças e Siribinha, à esquerda, ou a Barra do Itariri, à direita. Em Siribinha, o que mais impressiona é o povo e sua paixão sem limites pela terra onde vive. Em Barra do Itariri, quem nos emudece é a natureza, que não economiza em cores, cheiros e força, que nos faz sentir, com todos os poros, o prazer de estar vivo. Em Siribinha, tudo gira em torno do rio Itapicuru, que deságua lá. Homens, mulheres e crianças passam os dias pescando. Em Itariri, muitos nativos venderam os lotes na beira da praia para os veranistas e recuaram. Mas reservaram um local privilegiado pelo menos para a hora do descanso eterno: o topo de uma colina onde se vê mar, rio e um coqueiral infinito. Exatamente como deve ser no paraíso.
Siribinha
O acesso difícil poupou Siribinha. Como conta o pescador aposentado Natanael Santos, de 65 anos, mais conhecido como Sinhozinho, poucas famílias moravam ali, sobrevivendo da pesca no rio, no mar e do coco, sempre abundante. Para ir até a cidade do Conde, só havia um jeito: remar durante horas rio acima. Um percurso tão lento e difícil que muita gestante que tentou alcançar o posto de saúde, acabou parindo dentro da canoa, conta Dona Orita de Jesus, 66 anos, esposa de Sinhozinho. As paredes das casas eram de lama dura; o teto, de palha, e os colchões, de capim que dá na praia. Nos últimos anos, as coisas foram mudando: foi aberta a linda estrada, que ora margeia a orla e ora invade o coqueiral. Veio a luz, o transporte, as casas foram sendo reformadas. Em março de 2002 chegou a água encanada.
Até hoje são basicamente duas fileiras de casas: quem está à esquerda, vive de costas para o rio e quem mora à direita, tem o mar como quintal, como Sr. Paizinho, de 72 anos e Maria Creuza Caldeira, de 44 anos. Eles são de um tempo em que a praia era sinônimo de histórias de assombração, que aconteciam sempre à noite, onde bolas de fogo e luzes estranhas fizeram muita gente correr. Hoje, os mais jovens tiram de letra: se aventuram nas ondas, alguns até surfam, e fazem da praia o recanto oficial dos namoros que, garante Creuza, no seu tempo, era mesmo na porta de casa. Capaz de levar qualquer mortal ao céu com as suas moquecas regadas a molho de camarão, Creuza é conhecida como a melhor quituteira da região. Aliás, para quem não sabe, a famosa quituteira Dadá também nasceu e foi criada no município do Conde. Assim como muitos outros moradores de Siribinha, Creuza teve o seu período de viagens: “Com 20 anos fui aventurar a vida no Rio de Janeiro. Lá, trabalhei como garçonete e aprendi muito do que eu sei”, conta ela, que também morou em Salvador e quando achou que devia, voltou com marido e filhos para Siribinha, onde montaram um pequeno restaurante. Jonas Otaviano de Melo, 70 anos, pescador aposentado, daqueles que entrava no mar de jangada “e ia até onde a coragem deixava”, também viveu história similar: “Conheci Salvador, Aracaju, Rio de Janeiro e São Paulo, mas nunca achei lugar igual ao meu aqui”, diz ele.
E para manter o seu paraíso à salvo – lá ainda se dorme de portas abertas – o povo de Siribinha teve que enfrentar outros desafios. Há anos atrás, um fazendeiro da área, Alcides Andrade, apareceu dizendo que tinha arrendado tudo ali, passou a dar ordens e cobrar dinheiro dos moradores. A história se arrastou por anos. Um dia, desconfiado, Sinhozinho disse que não ia pagar. Foi ameaçado por capangas armados, mas não se intimidou, até que “um cumpadre meu descobriu que ele só tinha direito a mil metros. O terreno aqui é da Marinha. Aí o povo se revoltou e ninguém mais pagou”, conta ele. Muita gente viaja, dizem alguns que 80% já foi em São Paulo. Vão em busca de estudo e recursos para melhorar de vida, mas acabam voltando. O motivo, o jovem Néviton Caldeira, de 24 anos explica: “Amo isso aqui, é um verdadeiro paraíso, não tem malandragem, não tem maldade”.
Verde e azul
O município do Conde já foi o maior produtor brasileiro de coco seco. A concorrência aumentou, o preço caiu, veio a crise. Hoje ainda é o maior da Bahia, explica a secretária de Cultura do município, Celene de Castro. Indo para Barra do Itariri, tudo evoca esse fato: para onde quer que se olhe, o que não tem o azul do mar, é verde. As notícias mais remotas falam de Itariri como uma grande fazenda de coco, “da família Gomes”, conta Laécio dos Santos, de 45 anos, presidente da Associação dos Pescadores. Há cerca de 35 anos, os Gomes começaram a lotear e vender a área, vieram os primeiros turistas e as terras foram mudando de dono: “Passaram para as empresas Torras Brasil, Operflora, depois Copener e Ferbase. De Baixio a Conde, os donos são todos de fora”, explica ele. Mas o povo também começou a se movimentar e, com o apoio da igreja católica, surgiram alguns assentamentos de sem terra.
Mais pobre em vida do que o vizinho Itapicuru, o rio Itariri sempre empurrou os pescadores para o oceano. O rio ficava sendo o porto seguro. Tão seguro que recebia também pescadores de outros estados que, aproveitando a ausência de controle, aparecem por lá mesmo em época de defeso. “Mas agora não estamos à toa, temos a associação. Caso apareçam aqui, a gente pode chamar o CRA, a Conder”, diz Laécio. Para quem vive da pesca, a grande questão é reabrir a barra, o ponto onde o rio e o mar se encontram que, de um dia para o outro, ficou muito estreita, quase impedindo o trânsito dos barcos: “Foi uma mudança inesperada, feita pela natureza, agora estamos vendo se o prefeito nos ajuda a resolver isso”, diz Laécio.
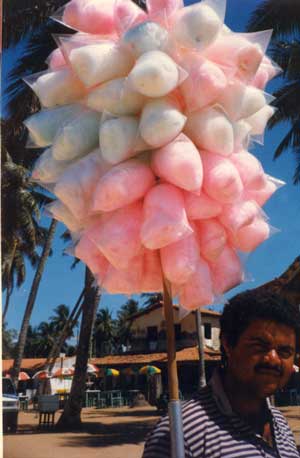
Incógnitas
Uma das grandes incógnitas em Itariri e em todo o litoral baiano é o turismo. Uma forma de ocupação que, em geral, apenas suga, exaure, extrai e, quando não resta mais nada, abandona. Sem preparo e capital, para os nativos, não há muitas opções além de ser garçom, faxineiro ou camareira. “Me chamaram pra trabalhar na pousada das 7h da manhã às 10h da noite ganhando um salário mínimo. Não fui, era escravidão”, conta um jovem da região. O modelo dos resorts é ainda pior, pois nem a água de coco do lugar é aproveitada. Tudo, absolutamente tudo vem de fora. Só o que fica mesmo é o lixo e esgoto, despejado onde antes só havia beleza. Mas há outros problemas, como a devastação de grandes áreas para o cultivo e a ação dos especuladores de terra. Os primeiros atingidos, é claro, são os moradores, como tem acontecido em Massarandupió, onde os moradores antigos estão sendo coagidos a deixar o local por seguranças contratados pelos novos “donos” da praia – empresários portugueses e brasileiros – que compraram cerca de dois mil hectares por uma bagatela. A desculpa para a privatização do espaço público pode até ser a preservação, como em várias praias elegantes da estrada do Coco, onde o acesso não é permitido a todos.
E assim, de uma ponta a outra do litoral da Bahia, prossegue a louca corrida por um lugar ao sol, envolvendo baianos, brasileiros e estrangeiros. Nesse percurso, muita coisa boa e ruim vai acontecendo: lugares isolados vão tendo a chance de prosperar, tornando a vida de seus habitantes menos sofrida, mas a ocupação intensa e desordenada traz consigo também a poluição, a destruição dos ecossistemas, o comprometimento dos recursos hídricos e abre espaço para a privatização da orla, onde quem tem maior poder econômico ocupa tudo e veda o acesso alheio. É por isso que, para muita gente que veio da beira do mar, hoje, a única opção é ter o mar dentro de si.
(2002)




















Muito boa reportagem, Agnes! Tava louca atrás de um material desse pra falar da história das barracas de praia de Salvador e você salvou minha vida..rsrs.
Parabéns pelo trabalho.
Abs de uma ex-aluna
Lu,
Que bom saber que você gostou. Essa reportagem foi um pequena homenagem – muito aquém do eu gostaria, é verdade -, à nossa orla querida. Acho que muito do que somos tem a ver com morarmos perto do mar. Quando o seu texto ficar pronto, seria ótimo publicá-lo aqui. Um abç da sua ex-prof. e colega que muito te admira.
Agnes
Gostaria de saber o nome do restaurante e telefone.
abs,
MIchele
o nome e telefone do restaurate de Maria Creuza Caldeira… gostaria muito de ir ao local
Não precisa, chegando em Siribinha todo mundo sabe quem é Creuza, o nome do restaurante é xeiro do mar
Não deixe de visitar o bar de Celso, na beira da praia, come-se um catado de aratú de babar… e Celso é uma figura única, nativo do local.
Parabens pela reportagem. Pelas fontes de informção, pelo conteudo.
Oi, Zélia,
Obrigada pelos elogios. Gostaria de ter viajado mais, pesquisado mais, entrevistado mais. O nosso litoral é um tema sem fim. Mas foi o possível na época.
Abç
Agnes
Não consigo encontrar pousadas com preço mais em conta em Barra do Itariri. Alguém pode me ajudar? Só encontro hotéis e resorts…. Quero ir de 28/04 à 01/05/2012. Quem souber responde o comentário, deixando o nome e se possível número de telefone.
alguem pode me ajudar o telefone do bar do celso
agradeço.
Já estive ali em MORRO
O DE PÈ DE SERRA… Aquele lugar eh muito lindo…
Reblogged this on barrianne.
[…] Povo do mar Reportagem sobre a ocupação do litoral baiano. […]